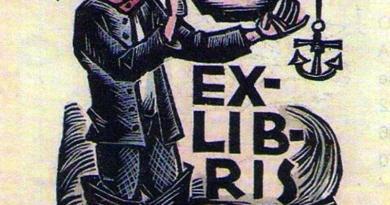Larmanjat e outros transportes no Termo
Sobre a via monocarrilada
Ainda acerca da via monocarrilada Larmanjat, Torres Vedras – Lisboa, atravessando Loures, escreveu Adão de Carvalho (in Memórias de Torres de Vedras, Assembleia Distrital de Lisboa, Serviços de Cultura, 1991):
“Em 6 de Setembro de 1873, foi inaugurado o caminho-de-ferro Larmanjat, entre Lisboa e Torres Vedras, sendo a estação desta vila situada no Bairro Tertuliano, no velho prédio de primeiro andar existente por detrás da casa do Sr. Venceslau dos Santos.
“As estações eram: Turcifal, Freixofeira, Barras, Vila Franca do Rosário, Malveira, Venda do Pinheiro, Lousa, Pinheiro de Loures, Loures, Santo Adrião, Nova Sintra (nome de armazém ainda existente ao início da Calçada do Carriche, no Olival Basto, um pouco adiante do edifício da Mala Posta – Nota V.M.A.), Lumiar, Campo Grande, Campo Pequeno e Lisboa.
“O preço das passagens para Lisboa era de novecentos réis, em 1.ª classe, e setecentos réis, em 3.ª. Não tinha 2.ª classe.
“A linha, muito rudimentar, com um carril central de ferro e calhas laterais de madeira, acompanhava em quase toda a extensão a estrada real (de Mafra); porém, este sistema deu tão maus resultados, pelos contínuos descarrilamentos e tombos em toda a viagem que os passageiros sofriam, que estes preferiam as diligências. E assim, ao fim de poucos meses de exploração, acabou o caminho-de-ferro Larmanjat.”
Os até aqui citados eram os principais meios de transporte colectivo em Oitocentos, no Termo dos Saloios. No entanto, não há a esquecer que por norma o saloio não era pessoa de largos recursos económicos, sendo por força do destino obrigado a recorrer a meios de locomoção mais acessíveis à sua magra bolsa.
O saloio e o seu burro
Então, vê-se a presença quase permanente do burro, animal aplicado a todos os serviços pelo “homem do campo” estremenho que fez dele o “camelo” da Europa, o seu prestimoso servidor, ajudando-o na labuta do agro, nas idas à cidade, sempre dócil e sempre infatigável. Como o seu dono, de pouco se alimenta.
Comprar um jumento no século XIX era relativamente barato: em 1890 um burro valia 10.000 réis e uma burra, meia moeda. Os burritos novos, com menos de um ano, davam-se.
Segundo João Paulo Freire (in O Saloio: sua origem e seu carácter: fisiologia, psicologia, etnografia, Porto, 1948), o modo como o saloio aparelha o seu burro é o mesmo utilizado na Idade Média: é ainda o albardão mourisco com arção em meia-lua.
E os ceirões de esparto bifurcados no dorso da azémola, são a cópia flagrante dum costume persistente em Marrocos.
A aparelhagem do burro saloio consta do albardão, albarda e almantricha:
– o albardão para os serviços do campo,
– a albarda para a viagem,
– e a almantricha (com cadeirinha ou sem ela) para transporte de pessoas do sexo feminino, geralmente saloias abastadas.
Algumas vezes os ceirões eram substituídos por cestos convenientemente ligados (in Maria Isabel Ribeiro, O Saloio de A a Z, “Boletim Cultural´93”, Câmara Municipal de Mafra).
O saloio abastado
Bom caminhante, tanto o saloio mendigo como o feirante ou o romeiro, não se escusavam a fazer longas jornadas a pé.
Por vezes, conseguiam boleia desta ou aquela galera (carroça destinada a transportar cargas), puxada por uma ou duas parelhas de cavalos ou muares, carregadas de produtos hortícolas de Torres Vedras para Lisboa, ou com as trouxas de roupa lavada das lavadeiras de Caneças e Loures para as freguesas da cidade. Às portas do Lumiar, ainda subjaze a memória toponímica dum tempo não muito afastado: a “Rua das Lavadeiras” da Ameixoeira.
Quanto ao saloio abastado, deslocava-se montado num cavalo, aparelhado de forma simples. A saloia abastada, preferia tanto a jumenta como a égua ou a mula.
Com o avanço do século XX e a evolução dos meios de transporte, aos poucos o Termo dos Saloios foi perdendo o folclore singular das suas locomoções próprias, muar ou asinina, substituindo-as por camionetas de caixa aberta ou tractores. Outros, para irem à cidade, hoje basta comprarem um bilhete de autocarro, de comboio ou até de metropolitano.
Resta a memória desta vertente social da vivência saloia. Cabe à Museologia conservá-la e transmiti-la aos presentes e vindouros, desta maneira preservando-os das malfazejas anemias culturais.
Dr. Vitor Manuel Adrião, Professor e Investigador (texto editado) | vitoradriao@portugalis.com